
A chuva das duas da tarde. Por Antonio Contente
Em qualquer lugar por onde eu esteja, se chuva cai, lá vem a esplêndida sensação de ser tomado pelo que Belém do Pará me deu. Afinal, foi lá que aprendi que certos aguaceiros a despencar no começo da noite nada mais são do que o anúncio do próximo despontar da lua…
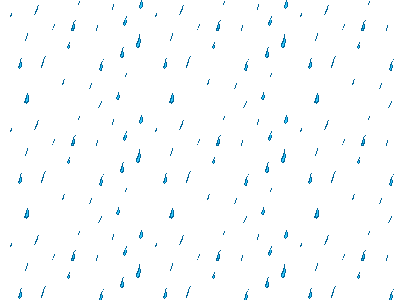
Na verdade é preciso ter exígua imaginação para achar que uma chuva é apenas uma chuva, como aquela história de que uma rosa é apenas uma rosa, uma rosa. Chuva é algo tão absolutamente sem limites, que se você for falar dela somente chuvas no viés de que serve para encher represas e irrigar verdes de qualquer tamanho, há tema para ocupar alguns tomos. Chuvas, amigos, podem ser usadas para umedecer amores, escorrer em vidraças, inspirar canções ou formar cachoeiras ao despencar de beirais necessariamente antigos. Foi ao se proteger de um aguaceiro sob uma, como se dizia antigamente, platibanda, que meu avô conheceu minha avó com quem depois casou e deu ao mundo nada menos de 16 filhos. Contam que Átila, o Rei dos Hunos, preferia tempos chuvosos para ganhar batalhas. E depois afogar, nos rios mais caudalosos pela força dos pampeiros, os derrotados que não tinham sido passados nas flechas, lanças ou lâminas.
Chuvas, neste país, pelo menos para o meu gosto, são bonitas em qualquer lugar. Porém, bonitas mesmo, com feições absolutamente inigualáveis, são as que caem sobre a mui heroica e nunca assaz louvada Santa Maria de Belém do Grão Pará que, aos 400 e tantos anos é uma das cidades mais charmosas do mundo.
Os cariocas, com seus espíritos gozadores, inventaram, e o resto do Brasil adotou como espécie de chiste, que na capital do Pará as pessoas marcam encontros para antes ou depois das chuvas das duas da tarde. Formulação para isso, nos velhos tempos, até havia; mas os forasteiros tem mexido tanto nos ecossistemas da Amazônia que até os aguaceiros mudaram de horário, passando para as 17 horas. Isso quando caem, pois a infalibilidade das chuvaradas diárias já não segue a pontualidade que os britânicos cultuam. Aliás, foi durante chuvarada num Outono em Londres que, ao entrar num sebo que ficava num porão atrás do prédio da Harrods, dei de cara, subindo a escada que levava aos escaninhos de milhares de livros, com o infelizmente já falecido médico, saxofonista e ex-secretário da Cultura campineiro João Plutarco Rodrigues Lima, que subia. A carregar, com cuidados de quem transportasse delicadíssimo biscuit de porcelana chinesa “casca de ovo”, uma edição razoavelmente antiga do “David Copperfield”, de Charles Dickens. Depois devidamente entronizado na sua biblioteca, que era imensa.
Mas eu falava das chuvas de Belém e quero acrescentar que elas são abençoadas por consistências filosóficas. Se é verdade que, como garante o poema de Gonçalves Dias, os pássaros que no exílio a que ele estava submetido não cantavam como os daqui do Brasil, também é certíssimo que chuvas de lugar nenhum, nem as lendárias de Ranchipur, agasalham encantos como as belenenses.
Ora, amigos, antes mesmo de desabar, as chuvas de Belém exalam aromas que nos penetram com carícias de acalanto. É que as brisas ou ventos que as anunciam trazem, no seu âmago, cheiros de folhas e flores das florestas, além de toques dos sargaços que cercam a Ilha do Marajó, pelo lado do mar aberto.
Entre as muitas boas lembranças da minha meninice e primeira juventude na linda cidade, várias me chegam sempre umedecidas pelas chuvaradas que despencavam sobre o quintal da nossa casa. Como era bom ver suís e pipiras, passarinhos recorrentes na área, a se proteger sob folhas de mangueiras, biribazeiros ou sapotilheiras; ficando, ali, encolhidos até o aguaceiro passar.
Nada há de melhor, aprendi então, para alimentar sonhos, do que acompanhar o escorrer das águas sobre troncos, ou a criar pequenos regatos, de modesta duração, sobre a terra tão pródiga no receber o rugir das tempestades.
Sobre o rio da minha infância, em Mocajuba, as marés das luas novas se cevavam nas chuvaradas para, nas cheias, cobrirem o chão com apaziguado sentido de invasão benigna. Pois sempre foi em função disso que se alimentaram as plantas, bem como verdor mais denso adquiriam os galhos das grandes árvores. E, nas noites profundas do Inverno amazônico que começa em dezembro, os pingos dos temporais a bater nas telhas terminaram por me fornecer o som fascinante daquela espécie de canção. Mais tarde sinfonias que as saudades ampliaram para o melhor posicionar das lembranças.
Em qualquer lugar por onde eu esteja, se chuva cai, lá vem a esplêndida sensação de ser tomado pelo que Belém do Pará me deu. Afinal, foi lá que aprendi que certos aguaceiros a despencar no começo da noite nada mais são do que o anúncio do próximo despontar da lua. Um dia perguntei a alguém porque é que isso acontecia. “Ora – ele me respondeu – é que a rainha das noites precisa de céu limpo, lavado, para que o luar não tenha jaças”. Santo Deus, é disso que precisamos, para todo o sempre: luares limpos, sem jaça, como eram os da Amazônia antes de tanta gente ir para lá derrubar árvores. E, o que é pior, sem sequer imaginar que, como os seres humanos, elas também sentem dor. E possuem almas.
______________________________________________________
 ANTÔNIO CONTENTE – Jornalista, cronista, escritor, várias obras publicadas. Entre elas, O Lobisomem Cantador, Um Doido no Quarteirão. Natural de Belém do Pará, vive em Campinas, SP, onde colabora com o Correio Popular, entre outros veículos.
ANTÔNIO CONTENTE – Jornalista, cronista, escritor, várias obras publicadas. Entre elas, O Lobisomem Cantador, Um Doido no Quarteirão. Natural de Belém do Pará, vive em Campinas, SP, onde colabora com o Correio Popular, entre outros veículos.
