
O barco. Por Antonio Contente
O barco… Não colocava uma peça, por maior ou menor que fosse, sem ficar, durante incontáveis minutos a passar as mãos sobre a madeira, com se a acariciasse…

Naquele ano, século passado, cheguei à Salinópolis, litoral atlântico do Pará, em maio. Com a cidade ainda livre dos turistas, que só aparecem em julho, pude bater pernas com mais calma. O que me permitiu certa manhã avistar, entre os galhos de um começo de mangue, aquela carcaça. Tratava-se do exato esqueleto de uma embarcação: o nítido espinhaço, se se pode chamar assim uma quilha e as “costeletas” soltas onde colocavam as tábuas do casco. Quatro ou cinco homens trabalhavam, batendo martelos, serrando madeiras, movimentando caixotes.
Como necessariamente passava por ali sempre que ia ao Mercado do Porto Grande, nos trinta dias em que permaneci na área, antes de regressar à Campinas acompanhei as obras do futuro flutuante. Algumas vezes cheguei mesmo a parar sob vários coqueiros junto ao barranco, e até sentava na raiz protuberante de densa mangueira para identificar aquilo que já percebera ser a reconstrução de velha embarcação de tipo ainda não identificado. Dias depois, viajei.
Só regressei novamente ao lugar, onde à época tinha um franciscano casebre, em outubro. Mal chego, movido por estranha compulsão, uma das primeiras coisas em que pensei foi no estaleiro improvisado à margem do mangue, no braço de mar. Só não fui imediatamente vê-lo, por ser noite. Mas de manhã, cedinho, fiz isso.
De maio a outubro são cinco meses e, a caminho do Porto Grande, francamente, não esperava encontrar mais a embarcação em reconstrução. Todavia, não somente encontrei como pude verificar que as obras, apesar de adiantadas, estavam atrasadas. Contradição? Nem tanto. É que conclui que em 150 dias daria para terem aprontado o que já identificara como um pesqueiro. Porém, percebi que começava a apresentar certo ar de imponência. Apesar de estirado sobre o seco, entre grossos esteios de madeira negra.
No segundo dia, após ficar quase meia hora sob os coqueiros a olhar os trabalhadores, me aproximei e puxei conversa. Falei que vira as obras em maio, e um deles observou que trabalhavam sem pressa. “Este é um barco especial”, disse.
— Encomenda? – Arrisquei.
— Encomenda… – Ele confirmou.
Cerca de uma semana depois, ao terceiro papo, já podia dizer que tinha alguma intimidade com Miguel, o cara que, na verdade, regia a obra. Colhi detalhes corriqueiros: tratava-se, como supunha, de embarcação velha que vinha sendo reconstruída. Mas veio um detalhe absolutamente surpreendente: a encomenda fora feita por um cliente brasileiro residente em Caiena, na Guiana Francesa; que, mesmo não sendo longe, não chega a ser exatamente pertinho daquela parte do litoral paraense onde eu estava.
Mas foi nos papos que eu e o dono do improvisado estaleiro passamos a bater nos fins de tarde levemente cervejados numa birosca ao lado do mercado, que captei outros dados para armar esta história: o pescador meio guianês possuía uma frota, formada por barcos desativados ou carcaças deles compradas a preço de banana nos cemitérios de navios que existem ao longo da orla de Belém, e que ele mandava reconstruir. No caso em questão, junto a um dos mangues de Salinópolis.
Depois, acompanhando de perto o empenho de Miguel, o artesão, é que percebi ser ele, realmente, um artista. Trabalhava à mão, com ferramentas antigas. Não colocava uma peça, por maior ou menor que fosse, sem ficar, durante incontáveis minutos a passar as mãos sobre a madeira, com se a acariciasse. O que evitava a permanência de alguma, por remota que fosse, protuberância. O barco, pude verificar, era liso como uma escultura; de Miguel Ângelo, exageremos.
Pouco antes de novamente regressar à Campinas, ainda em outubro, fiz a inevitável pergunta a Miguel:
— E fica pronto quando?
— Quando ficar… – Foi tudo que respondeu.
Dois meses depois, em dezembro, já no avião voltando à Belém, de repente fui tomado pela lembrança do pesqueiro. E o tempo todo, na viagem de carro para Salinópolis, não conseguia pensar em outra coisa. Tinha certeza que encontraria vago o lugar junto aos coqueiros naquele recanto de braço de mar.
Cheguei lá de manhã e, confesso, fiquei emocionado ao ver o lindo barco a flutuar nas águas da maré alta. Prontinho, pintado em branco e azul, talhe perfeito, bico de proa alto e, abaixo dele, o nome: “Fé em Deus”. Como não vi o artesão Miguel, corri à casa dele para gotejar minha euforia e também saber quando o camarada da Guiana Francesa viria buscar a embarcação.
— Ele não vem – o bom homem me informou – eu é que vou.
— Vai pra onde?
— Levar o barco pra Caiena; amanhã cedo.
No outro dia, às sete horas, vi embarcarem Miguel, a mulher e o filho, menino de uns cinco anos, mais um tripulante. O motor pegou com estrondo seco, e o “Fé em Deus” foi se afastando para viagem de vários dias por um dos mares mais perigosos do mundo naquele mês de muitos temporais e chuvas. Dois homens, a mulher quase menina e uma criança a bordo. Balancei a mão e fiquei olhando, até que eles sumiram entre as grandes ondas da arrebentação. Para mim o Amir Klink, perto deles, seria apenas, quando muito, um simples aprendiz de grumete. E o nome do barco, certamente, era tudo que certamente não devia faltar no coração do modesto comandante. Até os ímpios como eu eram obrigados a pensar nisso.
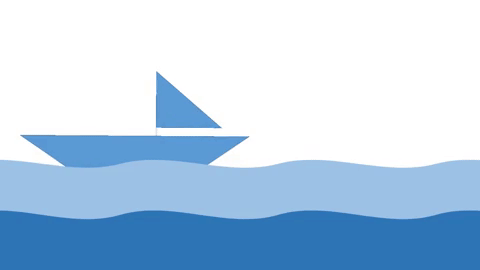
_____________
 ANTONIO CONTENTE –
ANTONIO CONTENTE –
Jornalista, cronista, escritor, várias obras publicadas. Entre elas, O Lobisomem Cantador, Um Doido no Quarteirão. Natural de Belém do Pará, vive em Campinas, SP, onde colabora com o Correio Popular, entre outros veículos.
________________________________________________________________
