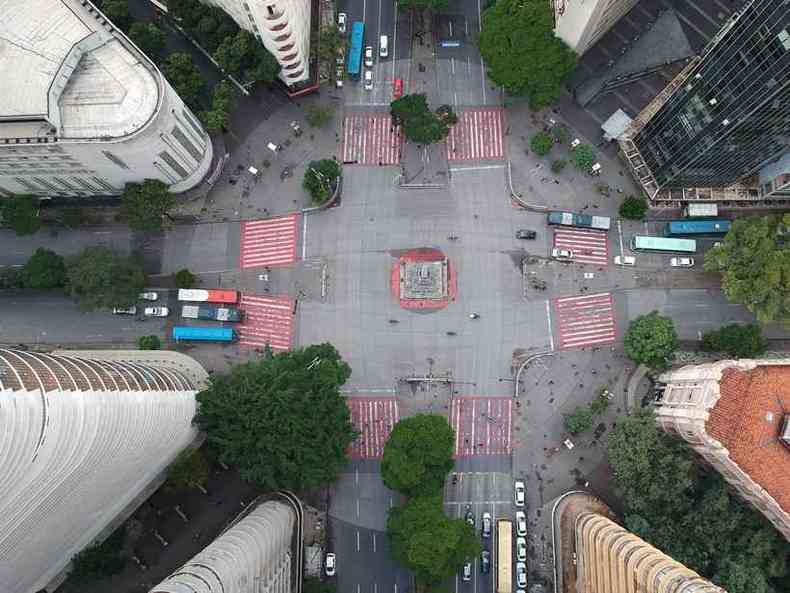
PUBLICADO ORIGINALMENTE EM O GLOBO E NO SITE DO AUTOR, www.gabeira.com.br, EDIÇÃO DE 24 DE JANEIRO DE 2022
Durante um ano, escrevi todos os dias sobre a pandemia do coronavírus. Com a chegada da vacina, voltei a viajar e pensava que estávamos caminhando para o fim de toda a tragédia.
A vacina funcionou para mim como uma centelha de esperança. E, como dizia Albert Camus, “depois que a menor centelha de esperança se tornou possível, acabou o domínio da peste”.
Para muitos de nós, esta pandemia é uma experiência única. Não há mais sobreviventes da Espanhola. O ebola foi contido na África Ocidental e vencido nos últimos meses de 2015.
De certa forma, tivemos sorte. Na chegada do vírus, os cientistas já haviam passado por quatro fases, a julgar pelo livro “O gene: uma história íntima”, de Siddhartha Mukherjee.
Já se conhecia a base celular da hereditariedade, os cromossomos. Em seguida, definiu-se a base molecular da hereditariedade: a dupla hélice de DNA. Antes de sequenciar o genoma humano, foi possível desenvolver o mecanismo pelo qual as células leem as informações contidas em genes.
Os cientistas aprenderam a fazer o mesmo, com a invenção da tecnologia de clonagem e sequenciamento do DNA recombinante. Na minha visão de leigo, consigo imaginar que daí foi possível produzir uma mensagem para que nossas células combatessem o vírus.
Com essa base de conhecimento, dificilmente outro vírus não terá como antídoto essa nova maneira de fazer vacina. Vivemos um triunfo da ciência, e não me refiro ao debate com o terraplanismo, que teve tanto peso no Brasil.
Penso em algo mais amplo, no crescimento da terceira cultura, por meio da qual cientistas e pensadores vão substituindo o pensamento tradicional na definição do que somos e de quem somos.
Tenho algumas léguas a andar, antes de chegar a grandes conclusões sobre isso. Esquematicamente, vejo que a religião perdeu importância num certo momento histórico, e o mundo desencantou. A política tomou seu lugar, deslocando o paraíso celeste para as possibilidades de um mundo terreno.
Com o declínio da política, a ciência avança para ocupar o lugar e pode preencher o espaço que a religião ocupou no passado. Claro que, por suas características, ela abre margem para crítica e contestação desse papel.
Sei apenas que a pandemia precipitou um processo que já era visível, até nas livrarias, com o êxito dos títulos de divulgação científica: o mundo está sendo reexplicado pela terceira cultura, destinada a preencher essa lacuna entre intelectuais literários e cientistas.
Essas coisas me vêm à cabeça meio desordenadamente, mas tenho minhas razões. Sempre considerei que o grupo de risco diante do coronavírus era definido biologicamente, idosos ou portadores de algumas doenças.
Mas, examinando as pesquisas da Oxfam, mostrando como os pobres ficaram mais pobres na pandemia e os muitos ricos enriqueceram, lembrei-me da incidência da Covid-19 em áreas populares e pensei: o nível de renda é um forte critério para definir grupo de risco.
Em vez de pensar na religião, política e ciência como etapas estanques, imagino que talvez um diálogo entre as três pudesse nos levar mais adiante.
E olha que não fomos tão longe. No princípio da pandemia, pensávamos que surgiria dela um mundo mais solidário. Ao chegarmos à fase quase terminal, constatamos que as diferenças se acentuaram.
O mundo em 2015 se uniu para conter e derrotar o ebola na África Ocidental. Agora, com a Covid-19, ele se contraiu no nacionalismo de vacinas: enquanto alguns países têm excesso, outros não têm nem geladeiras para armazená-las.
Na pandemia de nossas vidas, vejo cada vez mais próximo o cenário do filme “Blade Runner”, onde miséria e alta tecnologia convivem com naturalidade.
É muito perturbador.

