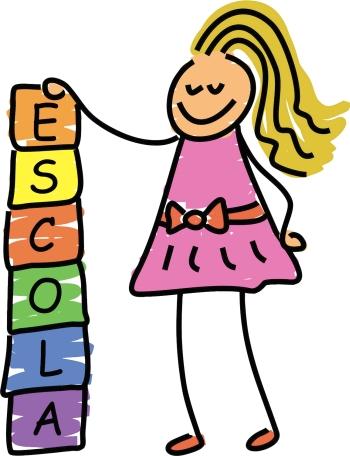
A escola é lugar de fazer amigos. Por Aylê-Salassié Filgueiras Quintão*
A escola é lugar de fazer amigos
Aylê-Salassié Filgueiras Quintão*
Uma rápida revisão na história da educação deixa claro que a escola tem como missão ser, de fato, um lugar para, livremente, se pensar, estudar, trocar informações com os colegas, professores e até com os funcionários. É um local de alegria, aprendizado comum e, em função disso, para fazer amigos eternos.

Logo o Paulo Freire! É isso mesmo. Desconhecer o poema “A Escola” , de sua autoria, só se justifica por alguma conveniência. O texto do brilhante educador brasileiro tem a virtude de provocar a agradável sensação de uma convivência saudável, solidária e feliz do lado de dentro dos muros da escola. O texto vem ainda acompanhado de uma espécie de hastag em que Freire, sorrindo, envia a todos “Aquele abraço!”.
Uma rápida revisão na história da educação deixa claro que a escola tem como missão ser, de fato, um lugar para, livremente, se pensar, estudar, trocar informações com os colegas, professores e até com os funcionários. É um local de alegria, aprendizado comum e, em função disso, para fazer amigos eternos.
Fala-se da escola primária e média. Na universidade é diferente. Logo que entrei na UnB, em 1965, deparei com a frase concisa e incisiva: “O campus é território livre!”. Era copiada das rebeliões estudantis na Europa e nos Estados Unidos, e inscrita em todas as paredes. Bordão da propaganda política, era absorvida imediatamente pelo ingênuo imaginário calouro.
A expressão insinuava a existência de uma invisível rede de proteção sobre a comunidade contra intromissões externas. Como tal, constrangia as autoridades da educação, militares e policiais que, vez por outra, quebravam a crença ritualizada, e invadiam o espaço para prender ou reprimir manifestações. Em geral, acontecia a pedido dos reitores ou dos ministros da educação, carentes da sabedoria pedagógica para administrar os conflitos nesse chamado território da liberdade e crítica.
As invasões policiais resultavam sempre em violência, prisões e às vezes em mortes. Para contornar o problema, as universidades criaram suas polícias. Funcionários, sem autoridade, e coragem menor ainda para agir em situações de conflitos políticos ou ideológicos, comuns dentro dos campi. Vigilantes: protegiam o patrimônio.
O comportamento indisciplinado e politicamente desafiador extrapolou os limites do campus, contaminando adolescentes, no ensino médio, com respingos nas classes primárias, da infância. Fugia-se totalmente aos propósitos formativos da escola. Os governos fingiam não ver. Os pais foram abrindo mão da responsabilidade constitucional (art. 205, da CEF 1988) como copatrocinadores da educação dos filhos. A escola terminou exposta às experiências, nem sempre compatíveis com os objetivos da educação formal.
 Na adolescência, estudei em um colégio interno, com mais de mil alunos, no qual todos éramos tratados por apelidos. Referiam-se quase sempre a alguma virtude, jeito ou trejeito que caracterizava um e outro. Hoje, sessenta anos depois, mantemos uma associação de ex-alunos, que se reúne, sistematicamente, para comemorar a amizade que ficou entre nós.
Na adolescência, estudei em um colégio interno, com mais de mil alunos, no qual todos éramos tratados por apelidos. Referiam-se quase sempre a alguma virtude, jeito ou trejeito que caracterizava um e outro. Hoje, sessenta anos depois, mantemos uma associação de ex-alunos, que se reúne, sistematicamente, para comemorar a amizade que ficou entre nós.
Ampliados e diversificados os níveis de liberdade e transgressão, o “campus livre”, sem cercas ou muros, foi incorporando no seu cotidiano a presença de estranhos – de difícil identificação – à vida acadêmica, com métodos exóticos, introduzindo na comunidade a violência criminal: consumo de drogas, estupros, roubos de equipamentos, fraudes em provas, assaltos à mão armada e até assassinatos mesmo.
Assusta ver esse tipo de prática chegando à vida cotidiana da universidade. De estarrecer, entretanto, é a leitura nos jornais de que um pequeno grupo de adolescentes, alunos de ensino médio, foi descoberto planejando entrar armado nas salas de aulas para assassinar colegas. Terminou acontecendo em Suzano, no interior de São Paulo, e na cidade de Pontalina, em Goiás. Nos EUA já foram registrados mais de 800 desses atentados criminosos em escolas.
O jovem goiano, quando detido, usou o argumento do “bullying“”. Rastreado pela polícia, descobriu-se, com ele, espingardas (do pai), uma capa, uma máscara e um arco e flecha. O adolescente culpou a mídia pela vulgarização da violência. Carente de interpretações razoáveis, a imprensa se apega ao “bullying” para explicar ações transgressoras nas escolas.
Na adolescência, estudei em um colégio interno, com mais de mil alunos, no qual todos éramos tratados por apelidos. Referiam-se quase sempre a alguma virtude, jeito ou trejeito que caracterizava um e outro. Hoje, sessenta anos depois, mantemos uma associação de ex-alunos, que se reúne, sistematicamente, para comemorar a amizade que ficou entre nós.
Em uma dessas escolas da atualidade, um ex-aluno enviou, previamente, mensagens sobre um atentado que cometeria em seu antigo colégio. Exibia, na Internet, fotos de armas de fogo que usaria e detalhes da ação, incluindo a rota de fuga. Revelava, sem constrangimento, que participava da ‘deep web‘, essa “internet invisível”, como um iceberg, que vai muito além do que se vê nos computadores; e que participava de foros digitais sobre atentados em ambientes escolares.
São os partidos políticos, a mídia e a tecnologia que alimentam o comportamento odiento dentro do sistema de ensino. Daí que não deveria incomodar essa história de polícia na escola: 48 só no DF! Mas, militarizar a educação não parece uma solução. A polícia não tem formação para transitar dentro de um território onde o pensamento é livre. Também não ajuda politizar o sistema, sobretudo nos níveis da descoberta do mundo pela criança; ou da formação da personalidade, na adolescência. Quem se propõe a politizar e militarizar a escola não parece ter vocação pedagógica, e sim missão ideológica.
Tudo isso é muito diferente do que Paulo Freire queria dizer: “Escola é lugar para ser feliz.”

Aylê-Salassié F. Quintão* – Jornalista, professor, doutor em História Cultural. Vive em Brasília.
