
Botaram no furico de D. Pedro II e proclamaram a República hoje. Por Luis Berto
Botaram no furico de D. Pedro II e proclamaram a República hoje
Por Luis Berto
…Lendo textos antigos, alguns no português medieval, esta viagem ao passado foi uma aventura extraordinária na minha vida e eu fiquei maravilhado com os registros da biografia de um Brasil que não consta dos manuais escolares…
Publicado originalmente na Besta Fubana, site do autor, 15 de novembro de 2016
O livro intitulado Memorial do Mundo Novo, de minha autoria, lançado aqui no Recife em 2001, foi uma modesta contribuição deste Editor aos festejos do aniversário de 500 anos da Terrae Brasilis, barulhentamente comemorado no ano anterior.
Para escrevê-lo, dei um fascinante mergulho na história desta terra. Desde o dia em que o Capitão Vicente Yañez Pinzon esteve em Pernambuco, pouco tempo antes de Pedro Álvares Cabral, até chegar ao final do século XX. Lendo textos antigos, alguns no português medieval, esta viagem ao passado foi uma aventura extraordinária na minha vida e eu fiquei maravilhado com os registros da biografia de um Brasil que não consta dos manuais escolares.
A passagem da Santa Inquisição em Pernambuco, entre os anos de 1593 e 1595, oficialmente denominada de “Primeira Visitação do Santo Ofício às Partes do Brasil“, rendeu uma peça que foi dividida em duas partes: as Denunciações e as Confissões. Este primoroso trabalho histórico foi editado pelo governo de Pernambuco em 1984. E eu me dei ao trabalho de ler todos os depoimentos das quase 700 páginas do volume, a maioria deles grafados no português daquele tempo, da mesma forma que o clérigo escrivão rabiscou nos papéis dos processos.
A passagem dos inquisidores por esta terra banhada de sol, retratada num dos capítulos do livro, é apenas uma das escondidas facetas da biografia do Brasil de que me ocupei pra construir meu romance. Uma peça de ficção totalmente baseada em fatos históricos.
Pois bem. Num dos capítulos do livro, o Capítulo X, eu me ocupo exatamente do fato que é celebrado no dia de hoje, 15 de Novembro, a Proclamação da República. E me veio à cabeça a ideia de transcrever este capítulo para os leitores do JBF.
Quem quiser ler o livro desde o começo até o final, pode adquiri-lo nas Edições Bagaço, pelo módico preço de R$ 35,00, aqui mesmo pelo computador, com toda segurança e tranquilidade, recebendo o volume na volta do correio. Basta entrar na página da editora e fazer a encomenda. Não apenas o Memorial do Mundo Novo, mas todos os meus títulos estão lá disponíveis. (…acho que estou perdendo a vergonha e aprendendo a vender meu peixe…)
Como brinde (ou seria chateação?) de feriado, transcrevo a seguir o capítulo que trata apenas da data de hoje, a proclamação da república. Informo que a leitura deste capítulo isoladamente não quebra a sequência nem tira o prazer (ou desprazer…) de ler o livro todo.
Boa leitura!
* * *
MEMORIAL DO MUNDO NOVO – CAPÍTULO X
Está chegando o final desse ano buliçoso de 1889 e Diogo de Paiva passeia devagar pelas ruas do Rio de Janeiro, observando a movimentação ao seu redor. Ele está em paz e feliz, como sempre esteve, ruminando seus planos e pensando neste mundo redondo, tão vasto quanto suas ambições e sua coragem. Suas passadas são despreocupadas, como se não tivesse roteiro predeterminado a cumprir. E é isso mesmo que está acontecendo. É evidente o seu descompromisso e ele anda segurando com muita elegância o cabo da bengala. Faz ligeiras comparações entre o Recife e esta cidade encantada, recortada de belas paisagens pela mão da natureza. Caminha sem pressa e prestando alguma atenção nos detalhes da arquitetura urbana e na fisionomia das pessoas que nestes momentos se movimentam pelas ruas. É impressionante a variedade de tipos e portes. Um fluir de vida agitado e intenso, muito condizente com a dignidade de metrópole. O comércio ao ar livre é sobremaneira avultado. Parece que toda a Corte é um incrível mercado. Uma feira descomunal que invade cada canto da cidade e faz brotar cheiros e sons que envolvem as pessoas. Tem-se a impressão de estar num gigantesco formigueiro.
Perto do capitalista, aqui na Rua do Ouvidor, uma parda gorda e desmanchando-se em banhas oferece mocotó de boi em um balaio e doces num tabuleiro. Passa um menino de chapéu de palha arrastando uma vaca magra. Num tacho postado a uma esquina, peixes avermelhados estão sendo fritos num óleo escuro. Os olhos dos peixes, deitados lado a lado, parecem entender a paisagem que estão contemplando. A fumaça da fritura é levada longe pelo vento. Em cada canto há uma roda de desocupados sérios comentando os últimos acontecimentos. Fala-se bastante do Imperador, de sua família, dos membros do gabinete e dos militares. Pessoas graves e bem vestidas, conversando de pé, destoam do restante daquela paisagem humana miserável. Burocratas, meirinhos, funcionários da justiça, diretores de repartições e órgãos públicos, homens solenes, militares fardados, doutores e letrados fazem ponto aqui neste centro agitado e nervoso. Todo o Rio de Janeiro fervilha de boatos e vivem-se dias de muita expectativa e nervosa ansiedade. Comenta-se sobre a inquietação dos militares e a apatia do Imperador. Murmura-se que Dom Pedro é sistematicamente isolado dos fatos pelo muro que a família e os assessores construíram ao seu redor, até mesmo censurando a leitura do que se publica nos jornais. Cochichos de pé de ouvido dão conta de tramóias do marido da princesa, o notório Conde d’Eu. “E estão todos à farta e à tripa forra, regalando-se com os ares de Petrópolis”, escuta Diogo de Paiva numa roda de encasacados. E raciocina consigo mesmo que a debilidade do Trono é bem maior do que se imagina lá em Pernambuco… “Fiquem tranqüilos, meus senhores, que hoje tudo se resolverá”, pensa com um leve sorriso na boca.
Turcos, imigrantes portugueses calçados de tamancos, marinheiros de pátrias várias, mutilados da guerra do Paraguai e uma legião de mendigos, pedintes e alienados, antigos escravos, rameiras oferecendo seus serviços a módicos preços nos cortiços da redondeza, negros com tabuleiros à cabeça, alemães alourados e tipos trigueiros de indefinida procedência, homens, mulheres e crianças, brasileiros pobres, estrangeiros remediados, uma multidão sem brilho, embora agitada, desloca-se em todas as direções. Democraticamente convivem os abastados e os miseráveis nas ruas da Corte. Damas ricas e seguidas por serviçais reclamam dos preços dos gêneros e passam carões nos vendedores. São ditos impropérios contra a carestia. Os balaios cheios de frutas vergam nas costas dos carregadores. Alguns apregoam suas mercadorias cantando. Negros suados, nus da cintura para cima e vestidos de calças de pano ordinário, desenvolvem tarefas pesadas de carga e descarga debaixo do sol inclemente. Fala-se alto e grita-se com muita intensidade. Os pregões cruzam-se nos ares. Leiteiros, vendedores de aves, vassoureiros, ceboleiros, verdureiros, paneleiros e outros apregoam aos gritos seus produtos. O cesteiro equilibra às costas sua carga segurando uma enorme vara. Mulatos empurram carroças. Um carvoeiro arrasta sua carga puxando uma corda atada a um carrinho. Um negro alto e magricela tange um burro com dois cestos atulhados de galinhas. Um garoto vende sorvete. Mulheres feias e sujas vendem miudezas. O bulício de vida é tão intenso quanto a sujeira depositada nas ruas onde se leva a efeito essa feira enorme. São péssimas as condições de higiene da Corte e as pessoas morrem de doenças inexplicáveis. Diogo de Paiva continua o passeio, com um pouco de saudades do nordeste, de onde chegara quase um mês antes. Sua querida Olinda não lhe sai nunca da lembrança.
Viera ao Rio de Janeiro não apenas tratar de negócios. Sobretudo viera porque seu faro indicava que coisas extraordinárias estavam prestes a acontecer neste final de ano aqui na cidade e ele queria estar no foco dos acontecimentos, embora discreto e nas sombras como sempre agira. Fizera uma breve escala em Salvador para tratar de conchavos políticos e depois zarpara com destino à Corte. No dia seguinte ao desembarque fora fidalgamente recebido pelo Conde d’Eu, marido da princesa Isabel, com o qual mantém sociedade em corrupções grossas, rapinagens várias, acordos políticos inconfessáveis, fêmeas da aristocracia, negociatas generalizadas, agiotagem vultosa e exploração de aluguéis, desde imóveis luxuosos até miseráveis cortiços. As pagadorias das repartições públicas são discretos feudos sob o comando da dupla. É o conde o ponto de contato e de fácil acesso de Diogo de Paiva ao poder central, à poderosa pena do Imperador. Em verdade, embora seja apenas o príncipe consorte, o Conde d’Eu alimenta o secreto desejo de suceder a Pedro II, e para tanto conta com o valioso apoio político desse generoso correligionário. A princesa tem enorme simpatia por essa figura afável e educada da província nordestina, que sempre lhe traz interessantes presentes daquelas terras ao norte.
Agora, enquanto vagueia pelas ruas, Diogo de Paiva refaz as contas do acerto que tivera com o conde dias atrás. Embolsara uma soma fabulosa e conseguira assinaturas em papéis que brevemente se transformariam em puro ouro. Além do encaminhamento de negociatas para um futuro bem próximo. E marcaram novo encontro ainda para o primeiro semestre do ano entrante. “Pena que não nos encontraremos mais”, pensa consigo Diogo de Paiva. A essa hora da manhã, ele já sabe que o destino do conde, do Imperador, da família real e da monarquia está definitivamente selado.
De repente, um rumor percorre a rua e as pessoas ficam sobressaltadas. Algo de inusitado deve estar acontecendo. Diogo de Paiva não se assusta, pois já é senhor dos fatos. Apenas aguarda e pára de caminhar para ficar assistindo. E lá vem o tropel dos militares montados garbosos em seus cavalos. Vêm gozando com orgulho a admiração e o espanto dos civis. Olhares duros e caras fechadas, ostentando seus uniformes puídos e suas expressões vazias de sentido. O grosso da tropa é constituído de caboclos dos interiores, pessoas sem qualificação e muitos ex-escravos, para os quais o exército é um excelente meio de sobrevivência e de sustento da família. Só o comandante parece dono de algum tino e de um remoto equilíbrio de juízo e, mesmo assim, ainda não sabe com certeza o que de fato irá fazer daqui a pouco. Na verdade, ele se vê jogado nessa aventura por ser o militar mais graduado e mais prestigiado desse cambaleante Império.
A multidão começa a olhar curiosa o aparato e muitos julgam tratar-se de uma parada. Com certeza, pensam as pessoas, um desfile extemporâneo, pois que nada havia sido divulgado quanto a esse estapafúrdio ajuntamento fardado nas ruas da metrópole. De fato, a surpresa é generalizada. E a imensa feira ao ar livre tem uma pausa em suas atividades. Diogo de Paiva posta-se sob a marquise de uma sapataria e espera a aproximação do cortejo. Ele já sabe de cada um dos lances desse enredo que agora se desenrola. A tropa vem em marcha moderada e não aparenta, absolutamente, que está indo realizar uma coisa tão profunda e de tão longo alcance para o futuro do Brasil. Ao contrário dos populares, Diogo de Paiva sabe exatamente o que esse povo fardado está prestes a cometer. Na verdade, ele fora comunicado de tudo o que se intentava, por telefone, na noite anterior, pelo cabeça de toda essa armação, esse garboso espécime medalhado e galardoado que trota à frente dos seus homens.
Hoje é o dia 15 de novembro de 1889 e o marechal Deodoro da Fonseca está nesse instante indo com suas tropas ocupar o Quartel-General do Rio de Janeiro e lá irá proclamar a república. Dessa vez, ao que parece, para sempre. Na verdade, ele ainda não sabe que irá fazer essa proclamação. O que existe, por enquanto, é uma vaga idéia de derrubada à força do gabinete montado pelo Imperador. Todavia, com o rumo que as coisas irão tomar, ainda hoje à noite ele instalará um Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, para cuja composição Diogo de Paiva indicará pelo menos dois ministros, o da Agricultura, Comércio e Obras Públicas e o da Fazenda, seu ilustre e querido amigo, o jurista baiano Rui Barbosa, e passará a exercer nas sombras um enorme poder nas nomeações, sobretudo nas nomeações para a governança da Nação Nordestina.
O barulho dos cascos dos cavalos vai avolumando-se e está cada vez mais próximo. Peças de artilharia são arrastadas pesadamente e na ponta das lanças dos cavaleiros tremulam bandeiras de diversos regimentos. As janelas dos sobrados estão cheias de pessoas, sobretudo mulheres, pois os homens já desceram para as calçadas. A multidão às ruas está atônita, desinformada, querendo saber a razão dessa parada militar sem explicações. Murmurações e boatos agigantam-se a partir de agora. Pára todo o movimento da feira gigantesca e tanto vendedores quanto compradores passam a espiar o formidável aparato bélico. Como desde sempre, desde os tempos coloniais, o povo é apenas espectador e paciente e, na esmagadora maioria das vezes, o único supliciado. Diogo de Paiva olha divertido a aproximação do marechal, seu confidente e amigo, à frente da coluna, impávido, de tronco ereto em cima do cavalo, imbuído da gravidade desse momento e consciente do gesto histórico que está prestes a levar a cabo. Seus oficiais também estão graves e solenes. Definitivamente, esse povo da farda não goza de qualquer respeito do capitalista, que se vale dele como se vale de todos ao seu redor e acha ridículos esses modos majestosos e essas liturgias empavonadas dos militares.
Diogo de Paiva olha o comboio mas não enxerga o que está vendo. Seu olhar parece perdido e envolto em névoas. Assim como se entrasse num dos costumeiros transes que chegam nos momentos mais inesperados. Nesses instantes, sua visão, sua concentração, seu poder de memória e seus pensamentos estão voltados para outra data que não esta de hoje, uma data localizada 65 anos atrás, quando também fora proclamada outra república no solo pernambucano. Uma aventura fantástica e breve, que ficará marcada para todo o sempre. Diogo de Paiva não pensa nos militares que agora estão indo proclamar a república montados em seus cavalos, e sim nos seus conterrâneos de Pernambuco muito tempo atrás. Já lá se vão seis décadas e meia, calcula mentalmente, e se surpreende com isso, como se agora, tanto tempo depois de ter desertado da esquadra do Capitão Vicente Iañez Pinzon, estivesse dando-se conta da passagem ligeira dos anos.
Corria então o ano de 1824 e a eternamente rebelde cidade do Recife mais uma vez estava inquieta, insatisfeita com o rumo tomado pelo Brasil após a independência. Ou, por outra, com a falta de rumos, pois que o sentimento reinante era de que a pátria fora ludibriada e à recém declarada independência faltava o indispensável cunho nacionalista, o rompimento imperioso e definitivo com Portugal e o desligamento completo dos usurpadores da dinastia dos Braganças. Havia uma frustração generalizada entre as classes altas e dominantes e as pessoas pensantes. Batia forte o coração pernambucano nos reclamos que espocavam por todos os lados e em todos os ambientes. A oratória inflamada dos tribunos da província inflava o peito das pessoas e despertava ardores bélicos sempre latentes no coração da população daquele recanto. O sentimento era de completa frustração entre a elite do estado.
Previra-se um Brasil novo e as coisas continuavam as mesmas. Ouvira-se do Ipiranga às margens plácidas um grito de independência e continuava-se sob a miserável dominação de lusitanos. Pugnara-se por mudanças e a situação continuava como dantes. Lutara-se por uma constituição democrática e o Rei outorgara uma carta ditatorial. Sonhara-se com a liberdade e acordaram na tirania. Ansiava-se por uma república e aí está um Brasil império. Pretendia-se um presidente eleito, e é imposto um monarca hereditário, vitalício e, como se não bastasse, tremendo frascário. Um pai d’égua vigoroso e fodedor emérito, que teve oito filhos em dois casamentos, mais cinco com a Marquesa de Santos, afora inúmeros bastardos em amantes diversas. Uma produção considerável e que dava muito combustível para os incessantes fuxicos da Corte. É essa figura que declarou a independência do país pai desse outro Pedro, o segundo, que daqui a pouco será destronado por essas tropas que avançam pelas ruas do Rio de Janeiro. Será miseravelmente traído por aqueles que até agora foram bafejados pelos seus favores.
Pernambuco não se conformava com o engodo e crescia o sentimento de repulsa àquele governo longínquo instalado no Rio de Janeiro e que nada tinha a ver com os interesses aqui da província. A decepção estendia-se de alto a baixo. Não obstante a lembrança das prisões, torturas, sevícias, enforcamentos e fuzilamentos de guerras libertárias do passado, não se havia conseguido sufocar os ideais republicanos. Contrariamente, ocorrera um crescimento espantoso desse desejo, especialmente então, com o absolutismo e a tirania de Dom Pedro I. Um Imperador fogoso, intrépido, galante, mandão, de um orgulho incomensurável, uma irascibilidade procelosa, levado ao furor e ao delírio. Enfim, apregoavam os republicanos, para nada servira a independência. Continuavam submetidos a uma Corte longínqua e dispendiosa. Deixara-se de ser colônia de Portugal e passara-se a ser colônia do Rio de Janeiro, era o pensamento dominante.
Agora, enquanto espera a aproximação do cortejo militar que vai proclamar a república, Diogo de Paiva, embaixo da marquise, relembra aquele agitadíssimo tempo de Pernambuco e em sua memória fixa-se uma figura pela qual possuía desmesurado apreço e com a qual mantinha ligações desde a frustrada revolta de 1817. Fora essa figura um dos únicos líderes que conseguira sair vivo do cárcere, após o furor repressivo do Rei e dos militares raivosos. Sete anos depois, irrequieto e nervoso, está novamente metido em conspirações republicanas e procurou Diogo de Paiva em inícios de 1824 para dar conhecimento dos seus planos e solicitar apoio.
Cuida-se aqui do monge carmelita Joaquim do Amor Divino Rabelo Caneca. De todos conhecido por Frei Caneca. É uma figura franzina e frágil, cuja baixa estatura de modo algum traduz a vulcânica energia que traz no seu interior. É terno e furioso a um só tempo. Homem de força rara, encrenqueiro, esculhambista, articulista, tribuno, jornalista polêmico, orador inflamado, panfletário, atrevido, dado às emboanças e ingresias com tudo e todos que atentassem contra as liberdades ou contra os ideais republicanos. Num dos seus artigos escrevera “A massa da província aborrece e detesta todo o governo arbitrário, ilegal, despótico e tirânico. Do Rio de Janeiro nada, nada, não queremos nada”. Uma ousadia sem limites para aquele tempo. O frade cutucava a gigantesca onça com uma vara curtíssima.
No encontro com Diogo de Paiva, o religioso fez longa exposição ao seu influente amigo. Falava com rapidez e tinha um timbre de voz tremido e nervoso. Que era inaceitável o Imperador ter determinado o fechamento da assembléia constituinte e ter imposto uma constituição autoritária. Que os proprietários, políticos, militares patriotas, magistrados, homens grossos, religiosos e pessoas gradas da província estavam indignados com a excessiva centralização de poderes nas mãos de Dom Pedro I. Que se vivia sob o jugo de uma tirania inominável. Que o Trono era perdulário e desregrado em seus costumes. Que era inadmissível o pouco caso com que o Imperador tratava as questões administrativas da província. Que a situação estava insustentável e urgia tomarem providências imediatas. Que providência? Uma providência não menor que a instauração de uma república nas terras do nordeste e totalmente desligada do Imperador e do Rio de Janeiro. Um país que tivesse o governo eleito pelo voto do povo, que abolisse a escravidão e tornasse todos os homens e mulheres iguais perante a lei e fosse administrado sob o império de uma constituição democrática, com a sustentação das pessoas de boa vontade e o amparo da divina providência.
Diogo de Paiva ouviu em silêncio a extensa e caudalosa fala do religioso e, ao final, prometeu-lhe total apoio, sob determinadas condições, além de generosa colaboração financeira. Solicitou apenas que seu nome não fosse ligado aos conspiradores nem aparecesse no combativo jornal do frade, o Typhis Pernambucano, a fim de que pudesse, como explicou, conspirar mais à vontade, eis que tinha fortes ligações tanto com as autoridades da província quanto com influentes membros da Corte, aí incluído o próprio Imperador. O anonimato seria enormemente útil para o sucesso da conspiração, afiançou ao religioso. O frade garantiu-lhe discrição absoluta e retirou-se satisfeito.
Teve início, então, uma vigorosa campanha, propagada nos jornais, nos panfletos, nos púlpitos, nas tribunas e de boca em boca. Formou-se uma corrente que aparentava ser inquebrantável, tal o volume de adesões e de militância. As câmaras de Olinda e Recife recusaram-se a prestar juramento à constituição imposta pelo Imperador e, por fim, sob o pretexto de negar a posse de um presidente da província nomeado por Dom Pedro I, a 2 de julho de 1824, explodiu uma grande revolta. A revolta sonhada e ansiosamente esperada por Frei Caneca. Novamente, metem-se em brios os pernambucanos e lançam mão das armas para conseguir a liberdade e a independência. No dia da eclosão do movimento, mais uma vez, como medida de grande conveniência, Diogo de Paiva estava fora da província a trato de seus negócios na Corte e no exercício do suborno dos burocratas imperiais. Ausentara-se por ocasião da celebração do dia de São João e despedira-se apenas de alguns poucos amigos, entre os quais o Frei Caneca.
Agora, aqui no meio da multidão do Rio de Janeiro, olhando sem ver os militares que se deslocam pelas ruas, ele traz à lembrança aquele furacão que varreu Recife e Olinda e mais uma vez pôs os nordestinos em armas contra a dominação e a tirania. Tivera sido uma guerra e tanto, não obstante o descomunal desequilíbrio entre as forças. As tropas do Marechal Deodoro estão quase em frente à sapataria sob cuja marquise está Diogo de Paiva. E ele continua suas lembranças, desligado dos soldados que agora vão passar à sua frente e, definitivamente, vão proclamar a república.
Nos primeiros instantes, quando houve a recusa do indicado para a presidência da província, o Imperador, num gesto surpreendente de conciliação, coisa que não era do seu costume, retirou a indicação e propôs um outro nome: José Carlos da Silva Mayrinck Ferrão, nada mais, nada menos que o grande amigo de Diogo de Paiva, o mesmo que antes, durante e após a revolução de 1817 permanecera na secretaria do estado! Um homem, segundo artigo de Frei Caneca “que a todos os governos antojava-se simpático”. A segunda recusa foi traduzida com a explosão do movimento sedicioso. A sorte fora lançada e a partir de então não havia mais recuo possível.
Numa demonstração da boa organização anterior da revolução, juntaram-se as províncias do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e das Alagoas, sob a liderança de Pernambuco, e criou-se um novo país na forma de república, batizado com o nome de Confederação do Equador. Um nome sonoro e pomposo, que era pronunciado com orgulho pelos seus habitantes. A pena vigorosa de Frei Caneca redigiu o manifesto da nascente república: “Brasileiros do Norte, habitantes do Equador, sustentai vossos direitos. Defendei nossa honra. Viva a Confederação do Equador! Viva a constituição que nos deve reger! Viva o governo supremo que há de nascer de nós mesmos!”.
Mais breve ainda que a República de 1817, durou apenas dois meses a Confederação do Equador. Foi uma estrela de brilho fugaz e que não teve o merecido tempo para gozar as benesses de uma vida republicana. E que teve um fim trágico e dolorosamente sangrento. A repressão determinada pelo Imperador foi tão impiedosa e cruel quanto da vez anterior. De há muito a Corte vigiava de perto a fervilhante movimentação dos pernambucanos. No Rio de Janeiro, a pedido de Dom Pedro I, Diogo de Paiva intermediou a contratação de cinco navios comandados pelo escocês Lorde Cochrane, a preços superfaturados, e embolsou gorda comissão pelo negócio. Os navios foram enviados de imediato para Pernambuco a fim de exterminar a sublevação que ali se desenrolava. Tropas com quase dois mil homens foram despachadas por terra. De lá da Corte, Diogo de Paiva acompanhava a guerra pelas notícias que chegavam a bordo dos navios.
Apertados por mar e por terra, os revoltosos não tiveram condições de resistir. Era gritante a inferioridade bélica da Confederação do Equador frente ao Império do Brasil. Recife e Olinda foram facilmente dominadas e submetidas a duros e humilhantes castigos. Os líderes foram presos e sumariamente julgados por tribunal militar. Foram enforcados de imediato doze dos mais comprometidos, além das centenas e centenas de vidas que foram perdidas em combate. Uma carnificina terrível e descomunal. Mesmo com a confirmação da derrota, o combativo Frei Caneca não esmoreceu e nem desanimou. Em momento algum vacilou ou perdeu a fé na certeza da vitória final dos patriotas pernambucanos. Ao contrário de alguns líderes que se refugiaram em navios estrangeiros, ele juntou um punhado de bravos combatentes e marchou interior adentro no rumo do Ceará, onde intentava implantar a reação. Uma caminhada épica e perigosa, pontilhada de inúmeros lances de coragem e extremada valentia. Após vários combates ao longo da sua marcha, foi finalmente preso já em terras cearenses. Nada mais restava da Confederação do Equador.
Os militares que vão proclamar a república já passaram todos aqui defronte à sapataria sob cuja marquise Diogo de Paiva se acha e vão de rumo batido ao Quartel-General. Ele alinhava as suas últimas lembranças da fugaz república nordestina.
Frei Caneca foi condenado à morte. E esse fato corriqueiro provocou tremendo mal-estar entre os militares que ocupavam a província, eis que os carrascos em atividade se recusavam sistematicamente a enforcar o religioso. Temiam a ira dos céus, pois o frade era tanto homem de ação respeitado quanto considerado santo por muitos. Criou-se um obstáculo totalmente imprevisível para os chefes da repressão e que pôs em enorme desconforto os prepostos do Trono. O preso Agostinho Vieira, mesmo com ameaças e promessas, recusou-se a fazer o serviço. E firmou-se inabalável nessa decisão. Torturado e barbaramente seviciado, manteve a recusa. O mesmo aconteceu com outros dois pretos encarcerados. Tais atitudes deixaram assombrados os comandantes.
Por fim, os militares resolveram o impasse decidindo pelo arcabuzamento do frade. E a aura romântica dos tiros, ao contrário do deprimente espetáculo da corda, só serviu para reforçar a lenda que àquela altura já cercava a figura e o nome de Joaquim do Amor Divino Rabelo Caneca. Num claro dia de sol, no Largo das Cinco Pontas, ele encarou com altivez e coragem os seus executores. Estava pálido em conseqüência dos dias passados no escuro do cárcere, mas banhado nas cores dos que têm a certeza de que vão dar a vida por uma justa causa. No momento em que foi dada a ordem de “fogo”, um dos soldados do pelotão de fuzilamento foi acometido de mal súbito e caiu ao chão. “Castigo divino”, correu de pronto pela boca do povo e das gentes graduadas. A partir daquele momento, nascia mais um mito pernambucano. Um mito que iria ser cultuado e para sempre reverenciado, cujo nome viria batizar inúmeras ruas, praças e logradouros em todo o estado. Também foi a partir dali que a Realeza começou a perder prestígio espantosa e velozmente junto ao povo e às classes mais baixas, que aos poucos foi desligando-a do poder divino e do mandato celestial. E começou a cair a níveis incrivelmente baixos a popularidade do Trono.
Após tudo acabado, o furioso Imperador tomou duas medidas. Em represália, mutilou mais uma vez o território do estado, desligando a imensa faixa de terra da Comarca do São Francisco, subordinando-a às Minas Gerais e, a seguir, à Bahia. E nomeou para o governo da província uma pessoa de sua absoluta confiança: José Carlos da Silva Mayrinck Ferrão, o dileto e íntimo amigo de Diogo de Paiva. O homem que, segundo Frei Caneca, “a todos os governos antojava-se simpático”.
Estava extinta a república nordestina.
As tropas seguem em direção ao Quartel-General e Diogo de Paiva retoma seu passeio pelas ruas do Rio de Janeiro. A cidade inteira é um ninho de boatos e intensa fuxicaria. Ele põe-se agora a pensar sobre essa nova ordem de coisas que se está instalando no país. E já tem pronta uma boa quantidade de planos para se locupletar no novo regime que está para ser instalado.
Há um total desinteresse por parte da população pela sorte da Monarquia que já havia perdido o apoio dos militares, da igreja e dos proprietários rurais, as grande forças de sustentação da Coroa. O Imperador está só e inerme, cercado apenas dos seus familiares e dos assessores mais próximos, mais ligado aos seus estudos de botânica que aos assuntos administrativos. É um homem culto, leitor voraz, que domina vários idiomas e cuja curiosidade intelectual vai desde a filosofia pura até as conquistas das ciências e da tecnologia. Nos últimos tempos os assuntos relativos à governança do Brasil não lhe trazem mais os entusiasmos dos tempos antigos.
Desde a Guerra do Paraguai, com a crescente importância do exército, os militares passaram a se atritar com o Trono em constantes reivindicações de reconhecimentos, vantagens e direitos. Um tipo de conflito com o poder central que vai virar tradição na história do país a partir de agora. O governo imperial teima em não reconhecer a importância da força e vive punindo oficiais por influências políticas. Sucedem-se os manifestos vindos dos quartéis e as indisciplinadas atitudes de solidariedade, desde as mais baixas até as mais altas patentes. As sucessivas leis antiescravistas, que culminaram com a Abolição, magoaram profundamente os senhores da terra. Por fim, abusando do instituto do Padroado, meteu-se o Imperador a prender bispos em Olinda e Belém e nunca mais recuperou o seu prestígio junto às batinas. Hoje o Imperador está absolutamente indefesso, sem qualquer sustentação, quer política, quer militar, trancado em si mesmo e indiferente a esse clima fervilhante lá fora do palácio. No auge da crise, o Marechal Deodoro, que nunca se declarara republicano, é adulado, rodeado e incensado pelos políticos, visto ser um militar prestigiado. Os urubus encasacados, os políticos inescrupulosos e os aventureiros de sempre revoam em bandos no seu gabinete. Vaidoso e vazio, ele goza satisfeito a bajulação em torno de si. Por esse tempo, tivera várias reuniões reservadas com o seu grande amigo nordestino Diogo de Paiva, de quem recebe sábios conselhos e seguras orientações, que servirão para embasar várias decisões que a partir de hoje irá tomar.
Agora, nesses instantes em que os militares dão início à rotina de decidir o que é bom e o que é ruim para o país, não se escuta uma única voz em defesa do Imperador. Há uma apatia generalizada, um desinteresse completo pelo desenlace disso tudo. A boataria é intensa entre os altos e os baixos, entre os nobres e os plebeus, mas não se ouve qualquer comentário sobre o infortúnio da Realeza e a desdita do Rei e da real família. A proclamação que se está levando a cabo nestes instantes é uma festa e um fato privativo dos militares. Serão eles, exclusivamente eles, que irão consolidar esta república. Que irão guarnecê-la e, periodicamente, metê-la em vergonhosos achincalhes.
Enquanto os militares se deslocam pelas ruas nessa manhã de 15 de novembro de 1889, o Conde d’Eu, genro do Imperador e príncipe consorte, faz seu habitual passeio matinal a cavalo com os dois filhos pela praia de Botafogo. Refaz-se das canseiras do baile que o governo oferecera quatro dias antes, na Ilha Fiscal, em homenagem à marinha do Chile. No mesmo momento, as comunicações telefônicas começam a falhar e o Diretor dos Correios e Telégrafos informa que a repartição já está ocupada pela força sublevada. Os fardados vão aos poucos dominando cada ponto importante do Rio de Janeiro. Tropas de cavalaria e sentinelas armados cercam o Paço Imperial. A seguir, guardas da infantaria chegam para reforçar o cerco. O laço aperta-se à medida que o dia avança.
Já no Quartel-General, cercado de bajuladores, oficiais ambiciosos, políticos interesseiros e figuras que passam por respeitáveis, o Marechal Deodoro, por breves instantes, deixa-se tomar por um leve peso de consciência, quando se lembra que sempre fora cumulado de honrarias pelo Imperador e era considerado homem de sua estrita confiança. Fica um tanto ou quanto constrangido, mas isso dura apenas uns breves instantes. Sem esse peso está o Patrocínio, um dos expoentes dessa nova ordem, que tempos atrás escrevera: “Juro defender o Trono de Isabel, a Redentora, pelo sangue de minhas veias, pela felicidade de meus filhos, pela honra de minha mãe e a pureza de minhas irmãs e, sobretudo, por esse Cristo que tem séculos”. E esse mau caráter indelével dos políticos, fardados ou não, deitará fundas raízes e irá perdurar para todo o sempre, enquanto o Brasil existir como república. Será normal e será norma dizerem uma coisa e cometerem outra diferente, jamais sustentando juras, promessas e palavras solenemente empenhadas.
República instalada, presidente e ministério empossados, vem o grande mal-estar e a grande dor de cabeça: como desembaraçar-se do Imperador e de sua família? Um problema e tanto para os novos poderosos que ficam nervosos com o passar das horas e a dificuldade de achar uma solução. O carisma de Dom Pedro II impõe respeito e infunde enorme constrangimento nesses novos mandantes, que há tão pouco tempo viviam à sombra do Trono. No gabinete do marechal presidente reina grande inquietação, com opiniões desencontradas e sugestões sem cabimento. Sentem-se esses homens graves e poderosos assim como crianças medrosas que cometeram uma traquinagem e temem que isso chegue ao conhecimento do pai. O ministério inteiro, mais os políticos e os oficiais de altas patentes envolvem-se com o angustiante assunto. A questão é séria e sobre ela são gastas muitas horas de debate. Todos, a começar pelo Marechal Deodoro, acovardam-se no instante de resolvê-la. Ninguém ousa comunicar o fato pessoalmente ao Rei. Encarar o Imperador não é tarefa à altura da hombridade desses novos dirigentes do Brasil. Enfim, mal acaba de nascer e já se vê a república a braços com uma encrenca medonha.
Por fim, depois de cansativos debates e calorosas discussões, ao longo de inúmeras reuniões, decidem-se por uma comunicação escrita. Pronto. O problema está resolvido e o alívio é geral. Depois de elaborado o documento, novo constrangimento e novo clima de covardia: quem irá entregar a carta nas mãos do Imperador? Os poderosos semblantes voltam a ficar tensos e o impasse permanece. Verdadeiramente, estão todos encalacrados e o desânimo volta a imperar. Afinal, trata-se de embaixada de altíssimo nível, da entrega de um documento oficial a um homem que até agora governara o Brasil e fora o Imperador dessa terra por quase meio século. Por fim, sob o império do medo e da covardia, chegam a uma conclusão. Decide-se que o portador será um oficial subalterno, já que os superiores, a começar por Deodoro, não se mostram corajosos o bastante para encarar o Imperador face a face. Uma atitude que humilhará profundamente o Monarca e marcará negativamente o início desse governo.
O major encarregado da missão, junto com três outros oficiais de patentes inferiores, entra temeroso e respeitoso nos aposentos privados onde o Imperador está sentado numa larga cadeira, apático e sem qualquer curiosidade quanto ao destino dessa aventura dos seus ex-súditos. Pedro João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Alcântara, que singelamente se assina Pedro de Alcântara, é um homem bastante alto, de passadas largas, tipo saxão, de maneiras finas e gestos autoritários. Os oficiais empertigados à sua frente compõem um quadro que mais parece um teatro de comédia ligeira. Recebe o envelope das mãos do major, dispensa-o e passa à leitura do documento. Não há qualquer alteração no seu rosto e nem qualquer exteriorização dos sentimentos que lhe vão por dentro do peito.
“Senhor, somos forçados a notificar-vos que o governo provisório espera do vosso patriotismo o sacrifício de deixardes o território brasileiro, com a vossa família, no mais breve termo possível. Para esse fim se vos estabelece o prazo de 24 horas, que, contamos, não tentareis exceder”.
O Imperador lê o documento sem qualquer emoção e com total frieza. Nem mesmo chega a se levantar de sua cadeira ou a fazer comentários com os que estão ao seu redor. Só depois de algum tempo é que se dispõe a redigir de próprio punho uma carta àqueles que o estão destronando. A sua resposta é enviada no mesmo dia aos dirigentes da recém estabelecida república.
“À vista da representação que me foi entregue hoje, às 3 horas da tarde, resolvo, cedendo ao império das circunstâncias, partir, com toda a minha família, para a Europa, amanhã, deixando esta Pátria de nós estremecida, à qual me esforcei por dar constantes testemunhos de entranhado amor e dedicação, durante quase meio século, em que desempenhei o cargo de Chefe de Estado. Ausentando-me, pois, eu, com todas as pessoas de minha família, conservarei do Brasil a mais saudosa lembrança, fazendo ardentes votos por sua grandeza e prosperidade”.
Temerosos de uma improvável reação popular, os governantes antecipam a partida, submetendo o Imperador ao constrangimento de ser acordado em plena madrugada a fim de deixar o palácio sob escolta. Uma república medrosa e sem pulso, que se inicia com gestos mesquinhos, ressaltados pela frieza e pela imponência com que o Imperador se comporta nessas suas últimas horas em território brasileiro. No Cais do Pharoux, antes de embarcar na pequena lancha que o aguarda, Dom Pedro vira-se para os oficiais que o escoltam e faz o único comentário sobre o que está acontecendo: “Os senhores são uns doidos!”. A comitiva que com ele e a família embarca está conformada. É assim como se pensassem que a república fatalmente teria que chegar um dia.
Com a partida do Imperador e da sua família, está definitivamente encerrada a monarquia, deixando órfã a nobreza brasileira, com quase quatro centenas de titulados, entre duques, marqueses, condes, viscondes e barões, com seus escudos heráldicos e brasões baseados na nomenclatura de acidentes regionais, em símbolos indígenas e na topografia de rios e montanhas dos trópicos. Está extinto o período da Realeza e com ele todos os seus penduricalhos e instituições.
E tem início a nova vida desse Brasil. Nos seus princípios, a república estabelece alianças e assenta suas bases políticas nas oligarquias paulistas e mineiras, dando início a um ciclo que ficará registrado como a política do “café com leite”. Um revezamento singular e de grande conveniência para os envolvidos. Embora república, coisa pública, não há qualquer participação popular em nenhum nível decisório, sendo as eleições realizadas com voto aberto, sem a participação das mulheres, e ferreamente controladas pelos donos dos currais eleitorais. Vota-se em quem os patrões mandam votar. E a nação começa a crescer e a se expandir, multiplicando-se as indústrias, incrementando-se a cafeicultura, a produção de leite e de laticínios, os grandes empórios comerciais e os bancos. Cada estado desenvolverá a sua própria oligarquia e o poder político emanará exclusivamente do poder econômico. Tem-se, finalmente, uma república.
Será esse período uma fase de enorme prosperidade para Diogo de Paiva e seus negócios, tantos os oficiais como os subterrâneos. Como sempre tem sido e continuará sendo pelos tempos vindouros. Nesse novo regime, ao contrário da monarquia, os estados terão total autonomia, até mesmo para legislar sobre importação de mercadorias, taxas de selo, transmissão de propriedades, indústrias e profissões, exportação de mercadorias de sua própria produção, imóveis rurais e urbanos e terão absoluto domínio de suas fazendas. A independência chega a tal extremo que os estados irão fazer empréstimos externos e criarão impostos sobre mercadorias advindas de outras unidades da federação. Um maná inesgotável para as atividades ilícitas e os exercícios de rapinagem de Diogo de Paiva. Acresça-se a isso o fato de que crescerá enormemente o poder dos mandões e coronéis locais, que passarão a ter excelentes condições de pressionar as autoridades que eles mesmos irão eleger. E estão, todos esses mandões, efetivamente subordinados à sua poderosa rede de influências e de corrupção.
Diogo de Paiva saúda com entusiasmo essa nova fase de vida do Brasil e prepara-se para viver o início do próximo século, já tão perto de chegar. Será uma quadra de fundas mudanças e impressionante progresso tecnológico. Prepara-se, mais ainda, para viver as facilidades de um tempo que trará uma máquina que voa, uma aparelho que tira retratos, uma lâmpada sem pavio nem gás, uma tela onde são projetadas pessoas, bichos e coisas movimentando-se, um engenho que grava e reproduz os sons desse mundo, uma carruagem que anda sem ser puxada por cavalos e um fio que transmite mensagens instantâneas para qualquer canto do planeta. Como um homem do seu tempo, um homem de cada tempo, ele irá gozar intensamente de todas essas coisas e terá sob seu domínio homens submissos e mulheres apaixonadas.
E, prepara-se, sobretudo, para um tempo venturoso que virá daqui a quarenta anos e que lhe trará mais prosperidade ainda e iniciará um novo ciclo na história desse país.
De bengala, luvas, pincenê, sobrecasaca, chapéu e gravata inglesa, lenço português na lapela, sapatos de couro italiano, charuto Havana e perfume francês, ela vê o século terminar freqüentando os salões nobres do Recife, os gabinetes do poder em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e viajando bastante pelo estrangeiro.
Sua festa de Ano Novo, saudando o Século XX, será comentada por muito e muito tempo.
(Final do Capítulo X de “Memorial do Mundo Novo)
________________________
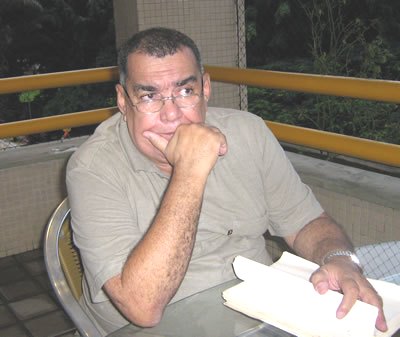 LUIS BERTO – JORNALISTA, EDITOR DA BESTA FUBANA, VIVE NO RECIFE, PE
LUIS BERTO – JORNALISTA, EDITOR DA BESTA FUBANA, VIVE NO RECIFE, PE



Acreditem se quiserem:
.
A Assembleia Constituinte venezuelana aprovou no outro dia uma Lei Constitucional Contra o Ódio.
.
“A Venezuela põe hoje esta lei à disposição do mundo. Não exportamos somente petróleo, queremos exportar paz, amor e tolerância num mundo gravemente ameaçado pelos poderes imperiais” !
.
Fonte: http://observador.pt/opiniao/o-ridiculo-em-politica/
.
————————-
.
Por aquí, es así. Hacer lo que…
.
E ítalo-brasileiro e latino-americano que sou… lá vai o meu comentário:
.
“Soy Latino Americano
E nunca me engano
E nunca me engano…”
.
Que saudades de uma época que não existiu e que nunca nos enganávamos…
.
Estamos em plena segunda década do século 21. Temos vergonha de ser latinos americanos e sempre se enganar!
.
“Ai, que vergonha do Varti…” (lembrando: aquela piada do mineiro dentro do guarda roupa e vendo a mulher se despindo para o amigo Varti)
.
Ai, que vergonha do Lula, da Dilma, do Sarney, do Collor, do Jânio, do Temer, da Carmencita, do Gilmar, do Luiz, do Edson, do Rodrigo, do Sérgio Cabral, do Picciani, do Tarso, da Maria do Rosário, da Ideli, do Mercadante, do Zé Dirceu, do Jucá, do Moreira Franco, do Padilha e… do Aécio Neves!
.
– Aí, mineirinho Aécio, primo do Varti, não adiantou tentar se esconder em nossas memórias!
.
Para personalidades desses naipes viciados, temos é que escrachar, fazer piadas e gargalhar, como vingança pelos prejuízos e vergonhas que nos causam, porque se esperarmos que os canais, gavetas, escaninhos e martelos da Justiça consiga pôr um fim à impunidade, pelas roubalheiras, tonterias e ridícularias…
.
Morreremos frustrados, decepcionados. E a causa mortis?
.
– Vítima das ridicularias do Establishment Nacional.
– Causa mortis: complicações hepáticas causadas por falta de higiene mental, negligenciando do hábito de rir o suficiente para completa desopilação diária do fígado.
.
AHT
16/11/2017